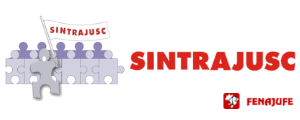“Um café com Corona”, “Contando a quarentena” e “Sonoridade em quarentena” foram os três textos vencedores, nessa ordem, do Concurso Crônicas da Quarentena, concluído em setembro pelo Sintrajusc, que buscou deixar para a entidade e seus sindicalizados e sindicalizadas um legado e uma reflexão sobre esse tempo.
Ao todo foram inscritas dez crônicas enviadas por oito sindicalizados e familiares, analisadas pelos jurados Caio Teixeira, jornalista, escritor e servidor aposentado do TRT-SC; Cyntia Oliveira e Silva, também servidora aposentada do TRT-SC, professora de produção textual, graduada em Letras, mestre em Educação e educadora popular, e Luciana Rassier, graduada em Letras, mestre, doutora em estudos literários luso-brasileirose pós-doutora em Literatura Comparada e Tradução.
Confira as crônicas apresentadas pelas colegas!
Um café com Corona
Cristiane Luz
Após quatro meses em casa, eu me permito tomar um café na rua. Mercado de sempre! Todos me conheciam. Agora, demoram a me reconhecer, a máscara e as raízes brancas dos cabelos dificultam. Peço o café de costume – piccolo com leite vegetal. Tiro a máscara, me sinto nua e o café desce sem gosto. O gole é certeiro, pago e me vou. O medo do invisível me manda embora. O prazer de outrora perdeu a graça. Dispenso o café com o Corona.
Dentro do elevador, mãos cheias de sacolas. O lugar, naturalmente apertado, parece menor ainda. A porta abre, uma jovem quer entrar. Eu desesperada digo: não pode! Ela me responde com uma pergunta irritada: como não? Ela não entra. A porta fecha. Ainda consegui ouvir sua raiva. Instantaneamente, olho para o cartaz colado na parte de dentro do elevador e confirmo a mensagem: “EVITE entrar no elevador com pessoas que não moram com você”. Analiso o VERBO, analiso o DISCURSO, analiso o DIREITO. Desisto da análise, o que acaba valendo é o instinto de sobrevivência.
Os números pioram, tão cedo não voltarei ao café no Mercado São Jorge. Também queria me privar dos elevadores, mas moro no nono andar. Subir escadas de máscara me tira o oxigênio, pareço infectada. De repente, me vejo perguntando para pessoas muito próximas como estão seus entes queridos.
Como está teu sogro?
Como está tua enteada?
Como está teu cunhado?
Como está tua mãe?
Como tu estás?
Todos eles trazem os sintomas; alguns deles, o diagnóstico. O mar está avançando, eu ainda estou no alto, mas consigo ver e sentir estragos. Talvez a onda chegue aqui, talvez não. O que fica é um gosto de incertezas, o medo da perda, a angústia pelo que desmorona a cada dia. Ninguém sairá ileso, estamos todos em um ininterrupto “velório”.
As palavras me ajudam a rir um pouco dessa situação esdrúxula, embora não me ajudem a compreender os fatos, os outros ou a mim mesma. Karnal defende que essa quarentena nos revelou dois tipos de pessoas: os negacionistas e os neuróticos. Não preciso dizer em que categoria me incluo. Não é patológico, não me faz mal. Mas tenho muito amor à vida e não me privo da dose diária de realidade. É uma espécie de imunização. Entre o negar e o sentir, eu sinto e muito!
E a vida agora é contada de 14 em 14 dias. Se sair, espere os 14 dias para ver se algo aparece. Se entrar em contato com alguém, espere os 14 dias para ver se sente algo. Já acordei com sintomas inúmeras vezes. Nada muito sério, nada muito concreto. Sonhamos com a imunidade assintomática. Sonhamos com vacina em tempo recorde. Sonhamos com a cura e a transformação. Ainda esperamos que o Outro use máscara e mantenha a distância. Por ora, apenas a sorte ou o azar estão lançados. Acaba, 2020!
Contando a quarentena
Liana Andréia Mazzetto
Antes mesmo que pudéssemos iniciar o ano pra valer, a quarentena veio. Quarentena. Era até engraçado dizer.
Março trouxe o confinamento, a inédita tática de lavar os sacos de batata palha e o próprio frasco do detergente, o álcool gel em tubos grandes, o estoque de papel higiênico e desinfetante, sem falar da cantoria da musiquinha do Castelo Rá-tim-bum pra lavar as mãos, dezenas de vezes ao dia. Quem podia, ficava em casa; quem tinha de sair, tinha medo. Eram poucos casos, mas havia aplausos para os profissionais da saúde.
Vieram as máscaras. Pode? Não é pra usar. Agora sim, pode. Sim, agora é obrigatório.
Abril passou (e a Páscoa?), maio também (cadê Dia das Mães?). Começamos a entender de estatísticas, ouvir virologistas, saber de tratamentos, opinar sobre remédios.
Contamos os dias, contamos as mortes.
Lá pelas tantas a gente acostumou. A ficar em casa, quem tem juízo; a arrumar motivo pra sair, quem acha que pode mais que o vírus. Até aglomeração e postagem na internet não é mais vergonha. E o quê é que médico sabe? Bah!
Fecha tudo. Abre tudo. Abre um pouco. Abre mais. Quem é que sabe o que está valendo? Libera aí o crossfit e o shopping!
Junho não teve festa junina e também não teve platô da Covid. A situação é séria, mas parece que só eu vejo isso. Sinto-me sozinha nessa realidade.
Nas reuniões virtuais com os amigos o que surge é conversa séria, cada um com menos esperança de voltar ao normal. Fato é que a vida, aquela de fevereiro, do carnaval, não existe mais.
Julho trouxe as notícias de testes de vacinas. Ufa! Já dá pra sair? Não! Tem gente que acha que liberou! 2019 nem parece tão ruim assim, não é mesmo? Mas não dá pra voltar, não dá.
Em agosto chegamos aos cem mil mortos. Cem mil. Muito mais gente que cabe no Maracanã em dia de clássico. Ah, sim, voltou o Brasileirão! Prioridades, né?
Agora, quase cinco meses nessa quarentena infinita, no “novo normal”, as compras não são mais lavadas, ficam ali no canto, aguardando o possível vírus morrer sozinho. Não tem mais álcool nas chaves, fechaduras. Até a lavagem das mãos vai na musiquinha em velocidade acelerada. Mas pelo menos a máscara é como pegar o celular e a chave antes de sair, já vai no automático.
E seguimos, tentando adaptar, reinventar, resguardar, sobreviver. Aguardamos a vacina, mantemos a esperança.
Fico imaginando como vai ser alguém lendo esse texto daqui a uns anos, como é que a história vai ser contada, se os culpados serão responsabilizados. Ou se normalizamos tudo mesmo, não tem jeito. E daí?
Sonoridade em quarentena
Audrey dos Santos Laus
Memórias também são feitas de sons e se, nas semanas de reclusão pandêmica eram as notícias ruins que a todos causavam medo e incerteza, era a inexistência dos sonidos diários o que mais me afetava.
Faltava o sinal agudo e estridente da Escola de início do turno e a alegria das vozes infantis, que do sono tranquilo costumavam me tirar. Não se ouviam mais as despedidas, as palavras de advertência dos pais zelosos, sonidos de amor que apenas se encontra no amor filial. Também o som das portas do carro, que batiam apressadamente, bem como das rodinhas das mochilas coloridas, que arranhavam a calçada rústica, um rastro sonoro que se estendia até o portão de entrada.
No final do dia, passando pelo portão de ferro cinza chumbo, a toada infantil retornava. Lá fora, o carrinho da pipoca e o estouro frenético do milho na panela surrada contribuíam para a sinfonia do entardecer, juntando crianças e seus pais na roda de conversa. Estridentes, as buzinas voltavam a cumprir seu papel, chamando os pequenos estudantes de volta ao lar. Afinal, no dia seguinte a vida prosseguiria com seus sonidos próprios, a indicar a continuidade da rotina.
Uns dizem que sentem falta da música do bar, shows ao vivo, dos copos brindando alegria ou da conversa próxima. Mas o que me traz saudade é a ausência dos ruídos pueris, pois a sinfonia do encontro infantil é o convite mais legítimo à esperança de viver e de se manter vivo, em tempos de quarentena.