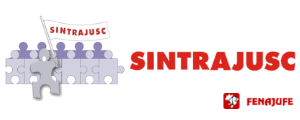Leia o artigo intitulado “Quem sempre pôde dispensar a igualdadede Rebeca Gripp Couto de Mello sobre a aprovação, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, do projeto do deputado Alex Brasil (PL-SC) que extingue as cotas raciais nas universidades estaduais e ainda prevê punições financeiras às instituições que insistirem em mantê-las. O projeto foi sancionado pelo governador Jorginho Mello (PL), mas o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) determinou a suspensão temporária da lei.
Quem sempre pôde dispensar a igualdade
Por Rebeca Gripp Couto de Mello, Mestre em Direito pela Universidade de TorontoP
O poder no Brasil tem cor. Nos tribunais, nos concursos, nas estruturas do Estado, a branquitude se apresenta como neutralidade, como mérito, como normalidade. Em um país construído por mãos negras, o Estado continua sendo administrado quase exclusivamente por mãos brancas. Essa não é uma coincidência histórica, nem um problema sociológico distante. É um resultado jurídico. Um resultado produzido por regras, critérios e decisões que, escondidos atrás do discurso da neutralidade, mantiveram o acesso ao poder cuidadosamente filtrado.
A aprovação da Lei Estadual 19.722/2026 em Santa Catarina não representa apenas uma posição política contrária às ações afirmativas. Ela expõe, de forma incomumente explícita, um movimento jurídico mais profundo: a tentativa de preservar, sob o discurso da neutralidade, a composição racial historicamente consolidada do acesso ao Estado. Não é comum que uma lei declare com tanta clareza quem deve continuar ocupando os espaços de poder. Ao proibir cotas raciais, a norma não promove igualdade; ela protege a desigualdade já existente, convertendo a branquitude institucional em critério silenciosamente resguardado pelo direito.
As cotas raciais nunca foram concebidas como privilégios ou concessões excepcionais. Elas surgem, no contexto constitucional brasileiro, como instrumentos jurídicos de realização da igualdade material, reconhecendo que o acesso ao Estado e às oportunidades públicas sempre esteve atravessado por filtros raciais silenciosos. Ao admitir ações afirmativas, o direito não introduz a raça no debate jurídico; ele reconhece que a raça sempre operou como critério implícito de exclusão. Não por acaso, o Supremo Tribunal Federal na ADPF 186 afirmou a constitucionalidade dessas políticas. Tratar desigualmente os desiguais não é privilégio. É a única forma de impedir que privilégios históricos continuem operando sob a aparência de regra neutra.
Esse tipo de reação às ações afirmativas tampouco é novo. O discurso da chamada “cegueira racial” passou a ser mobilizado juridicamente para bloquear políticas capazes de enfrentar desigualdades raciais concretas desde o seu nascimento. Como observou Kimberlé Crenshaw (1996),[1] a igualdade formal frequentemente é utilizada como argumento para impedir que o direito reconheça desigualdades reais, convertendo a neutralidade em obstáculo à justiça racial. O argumento de que o Estado não deve “ver raça” nunca significou a ausência da raça no funcionamento das instituições, mas a recusa em enfrentar os efeitos de sua presença histórica.
O argumento de que ações afirmativas comprometeriam a meritocracia também não é novo. O direito transforma escolhas políticas e privilégios históricos em aparentes critérios técnicos e inevitáveis. Como sugere Patricia Williams (1991), a linguagem jurídica tem a capacidade de converter desigualdades produzidas ao longo do tempo em fatos aparentemente neutros, ocultando as decisões que permitiram que apenas alguns percorressem os caminhos hoje avaliados como “mérito”.[2] O mérito, nesse contexto, não mede capacidades abstratas, mas trajetórias que foram historicamente acessíveis a poucos. Defender sua neutralidade é ignorar as condições raciais que sempre definiram quem poderia acumulá-lo. A meritocracia não é critério de justiça. É a narrativa confortável de quem sempre largou na frente.
Esse fenômeno também foi descrito por Derrick Bell (1995)[3] ao formular a ideia de interest convergence: políticas de ação afirmativa passam a ser toleradas apenas enquanto não alteram de maneira significativa a distribuição real de oportunidades. Quando começam a produzir efeitos concretos, surgem reações que buscam contê-las sob justificativas aparentemente neutras. Medidas como a Lei Estadual 19.722/2026 se encaixam precisamente nesse movimento. O problema das cotas, para seus opositores, não é jurídico nem principiológico; é distributivo. Elas passam a ser vistas como ameaça quando deixam de ser simbólicas e passam a interferir, ainda que minimamente, na composição real dos espaços de poder. O incômodo não surge quando se fala em igualdade, mas quando a igualdade começa a custar privilégios.
A proibição das cotas raciais não pode ser compreendida como defesa do mérito, da igualdade ou da neutralidade do Estado. Ela atua, na prática, como mecanismo de preservação da branquitude que historicamente monopoliza os espaços de poder. A lei não impede que o direito diferencie pessoas a partir de critérios raciais; ela impede apenas aquelas diferenciações que ameaçam a hierarquia racial historicamente consolidada. Ao fazê-lo, transforma a branquitude institucional em patrimônio silenciosamente protegido pelo ordenamento jurídico, travestindo a manutenção da desigualdade sob o discurso da imparcialidade.
Em um país em que 56,7% da população se identifica como negra, apenas 14,25% dos juízes e desembargadores brasileiros se autodeclaram pretos ou pardos, segundo dados de 2024 do Conselho Nacional de Justiça. Essa discrepância não pode ser explicada por mérito, acaso ou falta de interesse. Ela revela a existência de filtros históricos e jurídicos que condicionaram, de forma consistente, quem pode chegar aos espaços de decisão estatal. Leis como a 19.722/2026 atuam precisamente para impedir que instrumentos constitucionais capazes de alterar esse quadro sejam utilizados, garantindo que essa homogeneidade racial permaneça intocada. Ao impedir ações afirmativas, a lei não protege a igualdade do Judiciário, mas a sua paisagem racial já conhecida.
Trata-se, em termos diretos, de uma lei que demonstra a branquitude como critério jurídico protegido. Não porque mencione raça explicitamente, mas porque impede qualquer política capaz de alterar os efeitos raciais acumulados ao longo da história institucional brasileira. A neutralidade invocada pelo texto legal funciona como técnica de blindagem: ao proibir que o Estado reconheça desigualdades raciais, garante-se que elas permaneçam operando sem contestação. A desigualdade deixa de ser enfrentada e passa a ser juridicamente assegurada.
Há um ponto em que a análise jurídica precisa abandonar os eufemismos. Uma lei que impede o Estado de adotar medidas destinadas a enfrentar desigualdades raciais concretas não pode ser descrita apenas como opção política ou divergência ideológica. Trata-se de um ato normativo que opera para preservar uma estrutura de exclusão racial historicamente consolidada. Quando o direito é mobilizado para impedir que desigualdades raciais sejam corrigidas, ele deixa de ser instrumento de justiça e passa a funcionar como mecanismo jurídico de manutenção do racismo institucional.
O racismo aqui não se manifesta por meio de declarações explícitas, mas por meio daquilo que a norma proíbe que seja feito. Ao vedar políticas capazes de alterar a distribuição racial do acesso ao poder, a lei garante que essa distribuição permaneça intocada. Essa é a forma contemporânea do racismo jurídico: não afirmar a superioridade de um grupo, mas impedir qualquer tentativa de enfrentar os efeitos históricos dessa superioridade. O resultado é o mesmo. A desigualdade racial deixa de ser problema a ser enfrentado e passa a ser realidade a ser protegida.
A proteção jurídica da branquitude, no entanto, não começa com essa lei. Ela atravessa a própria formação institucional do Estado brasileiro. A ausência histórica de pessoas negras nos espaços de decisão nunca foi tratada como questão jurídica, mas como dado natural da organização social. O direito operou, ao longo do tempo, não para questionar essa homogeneidade, mas para normalizá-la. A raça nunca esteve ausente do direito; ela sempre esteve presente na definição silenciosa de quem pode ocupar o poder.
O problema das cotas raciais, portanto, nunca foi que elas criam desigualdade. É que elas expõem a desigualdade que o direito sempre ajudou a organizar. A história dos direitos civis mostra algo que o direito muitas vezes prefere esquecer: garantias que não são ativamente defendidas tendem a ser lentamente esvaziadas. Não por rupturas bruscas, mas por movimentos graduais que devolvem à normalidade desigualdades antigas. O debate sobre as cotas raciais no Brasil não é apenas sobre políticas públicas, mas sobre a disposição institucional de enfrentar, ou de preservar, as hierarquias raciais que estruturam o acesso ao poder. Se medidas como essa passam sem contestação, o que se consolida não é a neutralidade do Estado, mas a continuidade silenciosa da exclusão que sempre marcou sua formação. Quando o direito se cala, não é a igualdade que ele protege. É quem sempre pôde dispensá-la.
[1] CRENSHAW, Kimberlé; GOTANDA, Neil; PELLER, Gary; THOMAS, Kendall (org.). Critical race theory: the key writings that formed the movement. New York: The New Press, 1995.
[2] WILLIAMS, Patricia J. The alchemy of race and rights. Cambridge: Harvard University Press, 1991.
[3] BELL JR., Derrick A. Brown v. Board of Education and the interest-convergence dilemma. In: CRENSHAW, Kimberlé; GOTANDA, Neil; PELLER, Gary; THOMAS, Kendall (org.). Critical race theory: the key writings that formed the movement. New York: The New Press, 1995. p. 20–29.
Foto: Ato na Assembleia Legislativa de Santa Catarina no dia 3 de fevereiro
Saiba mais sobre o tema
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) determinou a suspensão temporária da lei que havia proibido cotas raciais para ingresso de estudantes ou contratação de docentes, técnicos e qualquer outro profissional em instituições de ensino superior públicas estaduais ou que recebam recursos do governo catarinense. Além disso, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de até 48 horas para que o governo e a Assembleia Legislativa (Alesc) expliquem a edição da lei, aprovada pela Alesc em dezembro de 2025 e sancionada pelo governador Jorginho Mello (PL) em janeiro deste ano.
A lei permitia a reserva de vagas apenas para pessoas com deficiência, alunos oriundos de escolas públicas ou com base em critérios exclusivamente econômicos, vedando cotas por critério racial. A norma previa multa de R$ 100 mil para editais que não respeitassem a vedação, além da abertura de procedimento administrativo disciplinar contra agentes públicos.
Leia mais sobre o tema
Artigo – O fim das cotas em Santa Catarina: a identidade branca como política de Estado